Jogar para ganhar
CINCO MULHERES DO FUTEBOL ESTÃO A INSPIRAR UM MUNDO DE MENINAS.
Susannah Hickling
fotografia por K. Synold
O futebol feminino floresce como nunca. Mais de mil milhões de pessoas assistiram aos jogos do Mundial Feminino em França, em 2019. O nono Mundial, que acontece em julho e agosto deste ano na Austrália e na Nova Zelândia, vai seguramente bater esse recorde. No centro do jogo, inúmeras mulheres apaixonadas pela modalidade e que acreditam piamente que o futebol consegue mudar vidas. Estas são as histórias de cinco dessas mulheres.
«QUERO FAZER PARTE DISSO!»
Khadija «Bunny» Shaw, 26 anos, avançada da Jamaica
Bunny Shaw recolhe todas as chuteiras usadas que as suas colegas do Manchester United já não querem. «Chamam-me Cleats Truck (o camião das chuteiras, numa tradução livre)», diz a avançada, com uma gargalhada.
Melhor marcadora de todos os tempos pela Jamaica – tanto no futebol feminino como masculino –, pode pagar facilmente um par de chuteiras de que precise mas, quando era ainda uma menina, teve de jogar com os sapatos da escola. Sabe que muitas jovens jamaicanas não têm dinheiro para as chuteiras, por isso sempre que regressa à ilha oferece as chuteiras usadas de primeira qualidade como prémio em competições locais de futebol feminino.
Nascida em 1997 em Spanish Town, perto da capital, Kingston, Khadija Shaw é a mais nova de treze irmãos.
Um dos mais velhos deu-lhe o nome «Bunny» porque gosta muito de cenouras. Era esse o irmão que ela gostava de ver jogar à bola no exterior da casa. «Juntava-se muita gente para ver e apostar em quem ia ganhar», recorda. «Pensei, quero fazer parte disto!» Por isso, os rapazes começaram a pô-la a jogar.
Os pais não ficaram contentes. O pai, sapateiro, e a mãe, avicultora, davam muita importância à educação dos filhos. A mãe, em particular, achava que o futebol era uma perda de tempo. Na Jamaica não existiam equipas femininas em nenhum escalão etário, «mas eu queria jogar à bola», resume Khadija, que tinha na parede um cartaz do Campeonato do Mundo e sonhava competir no maior torneio da modalidade. Por isso jogava quando a mãe não estava em casa, mas quando foi apanhada apelou aos seus dotes de negociadora – «Se lavar a loiça posso ir jogar?» – até ter sido selecionada, aos 14 anos, para a seleção de sub-15 da Jamaica. O pai convenceu a relutante mãe de «Bunny» que podia ser uma experiência valiosa.
Por fim, Bunny Shaw estava a trilhar o caminho que escolheu. Entrou na equipa nacional em 2015 e conseguiu uma bolsa de estudos para a Universidade do Tennessee, onde se licenciou em Comunicação, tornando-se a primeira pessoa da família a ter um diploma universitário.
Quando as Reggae Girlz, o nome da equipa nacional da Jamaica, conseguiu a qualificação para o Mundial Feminino de 2019 ao bater o Panamá nos penáltis, o sonho de Khadija cumpriu-se. Era uma estreia para qualquer país das Caraíbas.
Apesar de a Jamaica ter sido eliminada na fase de grupos do Mundial, a qualificação foi inesquecível: «Ajoelhei-me no relvado e todos estavam a correr de um lado para o outro, uma loucura!», recorda.
Khadija vai juntar-se às Reggae Girlz no seu segundo Mundial este ano. «Quando olho para trás e vejo de onde vim e onde estou, sinto-me orgulhosa», confessa a melhor marcadora de todos os tempos da Jamaica.
O seu conselho para alguém com sonhos impossíveis? «O falhanço não é permanente. Continuem a tentar, continuem a trabalhar.»
«ESTAS RAPARIGAS MERECEM JOGAR»
Monika Staab, 64 anos, antiga treinadora da Arábia Saudita
Em agosto de 2021, Monika Staab foi nomeada a primeira treinadora da novíssima seleção feminina de futebol da Arábia Saudita. Durante anos, a ex-jogadora que ocupava a posição de médio, lutou pela igualdade de género no desporto em vários países do mundo. Este reino em pleno deserto é o seu último desafio.
Durante a infância passada na década de 1960 perto de Frankfurt, na Alemanha, Monika era uma «maria-rapaz» que jogava futebol na rua com os rapazes desde os 4 anos. Não existiam equipas femininas: na realidade, o futebol feminino era proibido na Alemanha até à década de 1970, altura em que, incrivelmente, aos 11 anos, Monika ganhou um lugar na equipa de jovens mulheres. «Não conseguíamos campo antes das 21h30. Eu não chegava a casa antes das 23h00 e na manhã seguinte, às 05h00, estava a trabalhar na padaria dos meus pais. Depois, às 07h00, era hora de ir para a escola.»
Aos 18 anos, Monika mudou-se para Londres para jogar no Queens Park Rangers, sustentando-se a limpar quartos de hotel. (Naquele tempo, não só as jogadoras não eram pagas pelos clubes como ainda tinham de pagar pelo aluguer dos relvados.) Depois de paragens em Southampton e no Paris Saint-Germain, em 1984 regressou à Alemanha para jogar. Aí, apesar de não receber salário, ainda tinha de ouvir comentários sexistas dos jogadores. Felizmente, a atitude no seu país natal começou a mudar a partir de 2003, quando a Alemanha venceu o Campeonato do Mundo de futebol feminino. Monika era, na altura, manager da equipa que atualmente se chama Eintracht Frankfurt. Depois de a encaminhar para várias vitórias, em 2007 assumiu uma nova missão: viajar pelo mundo para ajudar a desenvolver o futebol feminino e a melhorar a vida as mulheres. Até agora, já executou programas em 86 países.
Num projeto de futebol escolar na Gâmbia, as meninas que muitas vezes não recebiam educação porque tinham de ajudar em casa começaram a regressar às salas de aula. No Camboja, Monika Staab treinou mulheres vítimas de tráfico humano. «Por uma ou duas horas, podiam jogar e esquecer-se das desgraças», diz. A treinadora crê convictamente que o futebol pode dar poder às mulheres para se tornarem agentes de mudança na sociedade. «O futebol é mais do que um jogo. Ensina respeito, tolerância, fair play, comunicação, trabalho em equipa.»
Assim, em 2020, quando a Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF) pediu a Monika que desenvolvesse o primeiro curso profissional para mulheres, ela concordou. Nove meses depois, foi nomeada manager da novíssima equipa nacional.
No reino, sente um enorme entusiasmo pelo futebol feminino, em particular desde 2019, quando a SAFF criou o departamento do futebol feminino, permitindo às mulheres pela primeira vez jogarem profissionalmente. Viu homens e mulheres a assistirem a jogos ao vivo e crianças a praticarem desporto na escola. Existem agora duas ligas femininas que envolvem 25 clubes.
Monika Staab, que vive em Riade (diz que «treinar com um calor de 40º mantém jovem qualquer um»), já levou a equipa nacional a quatro vitórias e dois empates nos primeiros sete jogos internacionais. Em fevereiro deste ano foi promovida a diretora técnica nacional, supervisionando o desenvolvimento do jogo no feminino no reino. (Rosa Lappi-Seppälä, finlandesa, é agora a treinadora.)
Esta primavera, os planos para a autoridade de turismo do Estado da Arábia Saudita patrocinar o Mundial Feminino deste ano foram descartados pela FIFA, após organizações como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch terem argumentado que a Arábia Saudita está a usar o futebol feminino para manipular a imagem pública do país e desviar a atenção dos atentados aos direitos humanos. Já Monika Staab, mantém o foco no jogo: «Eu não sou o rei. Estou aqui por causa do futebol feminino. Estas raparigas merecem jogar, tanto quanto os homens.»
«APERCEBI-ME DE QUE O FUTEBOL TEM PODER»
Nadia Nadim, 35 anos, avançada afegã a jogar pela Dinamarca
A paixão de Nadia Nadim pelo futebol começou quando ainda era criança e vivia num campo de refugiados na Dinamarca, em 2000, e via, através da cerca, outras meninas num clube próximo. «Era a primeira vez que via meninas a jogar futebol», lembra. «Adorava ver uma menina em particular e desejava ser como ela. Parecia tão feliz e livre.»
A liberdade era um bem escasso para a família de Nadia no Afeganistão após o pai, militar de carreira, ter sido assassinado pelos talibãs.
Nadia era a segunda de cinco meninas e, como não tinham um homem que as acompanhasse, a família estava em prisão domiciliária. «Não podíamos ir à escola, por isso a nossa mãe ensinava-nos em casa», explica Nadia.
A mãe decidiu contratar passadores e deixar o país. Com passaportes falsos conseguiram atravessar a fronteira até ao Paquistão e daí voar para Milão. Em Itália, esconderam-se na parte de trás de um camião e, durante dois dias, atravessaram a Europa. Quando chegaram à cidade dinamarquesa de Randers, o condutor disse-lhes para saírem.
Enquanto vivia no campo de refugiados, Nadia Nadim tinha aulas de dinamarquês de manhã e, depois, jogava à bola com os rapazes e as raparigas do campo até anoitecer. Um dia, ganhou coragem para perguntar às meninas que via jogar do outro lado da cerca se podia juntar-se ao seu clube. O primeiro jogo foi disputado com umas chuteiras demasiado pequenas, compradas em segunda mão. Nadia tentou molhá-las para alargarem, mas, recorda, «ainda hoje tenho bolhas».
A competência e capacidade atlética de Nadia rapidamente a lançaram numa carreia incrível no mundo do futebol. Tornou-se a primeira jogadora nascida noutro país a alinhar pela Dinamarca na Algarve Cup, realizada em Portugal em 2009. Jogou como profissional em equipas dinamarquesas e britânicas, e foi com o venerável Paris Saint-Germain que ganhou o título da liga francesa de futebol feminino em 2021. Atualmente joga nos Estados Unidos, no Racing Louisville FC.
Em 2006, Nadia fundou um programa de futebol com um amigo numa zona pobre de Randers onde os jovens muitas vezes tinham problemas com a lei. O projeto começou com sete rapazes e cresceu até incluir mais de duzentos – rapazes e raparigas.
Nadia lembra-se do dia em que viu duas meninas somalis com lenços a cobrir-lhes a cabeça e a jogar à bola com os rapazes. «Até aquele momento, as meninas pensavam que não podiam jogar. Apercebi-me de que o futebol tem poder. Pode mudar o ponto de vista das pessoas.»
Nadia foi nomeada campeã da UNESCO na educação de meninas e mulheres em 2019.
Retribuir foi a motivação de Nadia para se tornar médica. Conseguiu conciliar o futebol profissional com os estudos de Medicina na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e licenciou-se em 2022.
«Quero estar numa posição em que possa ajudar as pessoas quando me retirar dos relvados», explica. «Quando percorro os corredores com a minha bata branca, tenho a certeza de que posso fazer grandes coisas.»
«TODA A GENTE PODE JOGAR»
Sandrine Dusang, 39 anos, antiga jogadora da seleção francesa e ativista pela igualdade
«O que queres mesmo fazer?», perguntou a mãe de Sandrine Dusang à filha de 6 anos, que chorava sempre que a levavam à aula de dança.
«Quero jogar futebol», respondeu a criança. Em pouco tempo, era uma das poucas crianças que jogavam futebol no clube local perto de Vichy, em França.
Quando Sandrine fez 13 anos deixou de poder jogar com os rapazes e a mãe passou a levá-la, três vezes por semana, para treinar com outras raparigas em Moulins, que ficava a uma hora de viagem.
Em 2003, depois de se formar na CNFE Clairefontaine, a academia nacional francesa de futebol feminino, Sandrine, defesa, entrou no Olympique Lyonnais Feminin, uma equipa de alto escalão em França, e foi escolhida para a seleção nacional (surgindo no Europeu de 2005).
Mas como apenas recebia uma pequena quantia por cada jogo, tinha de trabalhar como assistente de marketing no clube. «Trabalhava todo o dia no escritório, pegava num lanche e no equipamento e corria para os treinos», lembra, demasiado consciente de que a realidade não é a mesma para os homens. Só em 2009 é que foi dado um contrato às jogadoras francesas.
Sandrine Dusang representou a França em quarenta e sete desafios internacionais entre 2003 e 2011 e hoje luta pela igualdade de oportunidades no jogo. «O futebol é uma escola de vida», explica. «Pode ser jogado em qualquer local: no jardim, na estrada, no recreio. Através do futebol desenvolve-se a personalidade. As raparigas têm muitas vezes que ser mais assertivas que os rapazes para vencer e o futebol pode ajudar. Torna-nos mais fortes.»
O seu ativismo já assumiu diferentes formas. Passou quatro anos a editar o site francês de notícias Foot d’Elles, dedicado à promoção do futebol feminino e à diversidade no desporto, e foi voluntária na Equal Playing Field, um coletivo internacional que promove o desenvolvimento desportivo para as mulheres em todo o mundo e está representado em trinta e dois países mas opera essencialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Agora, vinte anos depois de ter iniciado a sua carreira profissional, Sandrine Susang luta pelo reconhecimento do primeiro clube exclusivamente feminino da Córsega. A viver na cidade de Bastia, na ilha mediterrânica que é uma região de França, é em simultâneo jogadora e copresidente do Féminine Esprit Club (FEC) Bastia. Pouco depois de ter chegado à Córsega, em 2019, descobriu que as equipas femininas dos clubes de futebol só podiam jogar nas competições regionais, mas não contra equipas da França continental.
Depois de ter feito lobby junto dos políticos corsos, o seu clube foi incluído na competição nacional Coupe de France em dezembro de 2022 (e equipa teve uma vitória e uma derrota).
Sandrine também usou a sua posição no FEC Bastia para transmitir mensagens e valores importantes. As camisolas das jogadoras têm as cores da bandeira LGBT e um slogan em corso que promove a igualdade de oportunidades. Traduz-se como: «Toda a gente pode jogar.»
«TRABALHEM SEMPRE JUNTAS»
Débora Cristiane de Oliveira (Debinha), médio do Brasil
Debinha – que tem 1,57 metros – é uma estrela no meio-campo que não tenciona ficar demasiado grande para as suas chuteiras. «Nunca vá acima de ninguém», é a sua filosofia.
Ao invés, diz, o melhor é ser o espelho dos outros e aprender sempre com os colegas em tudo o que se proponha fazer. Afinal de contas, resume, «não cheguei aqui sozinha».
Reconhece a dívida que tem para com a família e para com quem a ajudou a chegar ao topo, mas também se dá crédito pela autoconfiança, pela capacidade de sair da zona de conforto e pelo compromisso inabalável com o desporto que escolheu.
Do futebol de rua numa pequena cidade do interior do sudeste do Brasil a uma das estrelas maiores da Liga Norte-Americana de Futebol Feminino e um dos pilares da seleção brasileira, Debinha, de 31 anos, percorreu um longo caminho.
Já representou o país mais de cento e trinta vezes e, em 2022, foi nomeada para o prémio de Melhor Jogadora da FIFA, sendo a única sul-americana a ser indicada. Este verão, irá fazer as malas para preparar o segundo Mundial da sua carreira.
«Sempre gostei de jogar à bola», diz Debinha, que começou com 8 anos a jogar na praceta defronte da loja de doces onde a mãe trabalhava, na sua cidade natal de Brasópolis.
Se não estava a jogar na rua estava na escola, a ter aulas extra de educação física.
«Eu era fascinada pelo desporto, por todos os tipos de desporto», diz. «Joguei voleibol, andebol, pratiquei skate. Mas o futebol era o meu forte, por isso estava sempre a jogar com outros meninos e meninas.»
A família Oliveira era muito unida, mas durante algum tempo o alcoolismo do pai lançou uma sombra na vida doméstica.
Debinha lançou-se no futebol e por isso surgiu a oportunidade de tentar a vida no Saad, um clube nos arredores de São Paulo, a mais de 200 quilómetros de casa.
A adolescente de 16 anos foi ter com a mãe ao trabalho para lhe pedir que assinasse o formulário de consentimento. A mãe começou a chorar.
«Foi muito difícil vê-la a chorar», recorda Debinha. A mãe passou por um período de depressão, mas sempre apoiou a filha. «Hoje, como sempre, é a minha fã número um», diz a craque brasileira que também está muito orgulhosa do pai, que conseguiu ultrapassar o problema do alcoolismo.
Deixar Brasópolis foi complicado para Debinha, tal como para a mãe. «Seguir o meu sonho implicou deixar os amigos, a família, uma vida confortável. Foi uma vida feliz, a viver na Rua Sete de Setembro e a jogar à bola na praça.»
Mas a assumida «miúda que adora um bom desafio» sabia que tinha de o fazer. E compensou. Além dos clubes brasileiros, já jogou em equipas na Noruega e na China e atualmente está no Kansas City Current, nos Estados Unidos.
Até agora, os maiores momentos da carreira foram representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016, que tiveram lugar no seu país natal.
«Estar no campo e ver a minha família a torcer por mim, ver a minha família a passar por tudo comigo, é algo que não tem preço.»


Khadija «Bunny» Shaw, 26 anos, avançada da Jamaica


A dedicação de Monika Staab está a mudar atitudes em todo o mundo.


Nadia Nadim desafiou as probabilidades ao chegar ao topo do futebol dinamarquês. a.
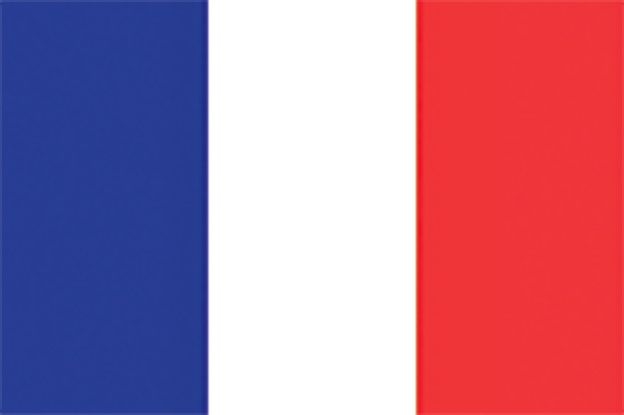
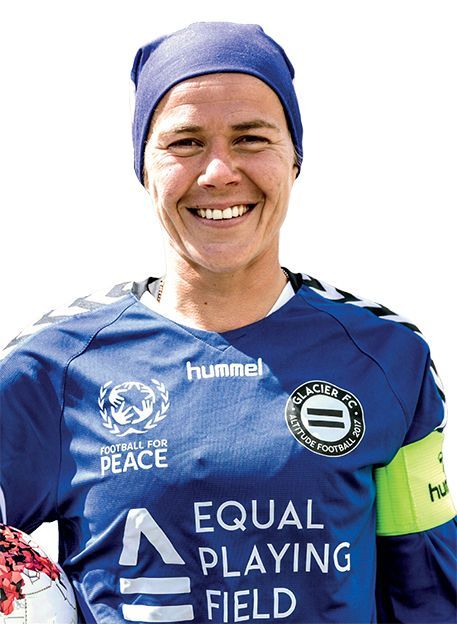
A francesa Sandrine Dusang promove a igualdade e os direitos LGBT e de género no desporto.


A brasileira Debinha teve confiança suficiente para se comprometer com o que mais adorava.
